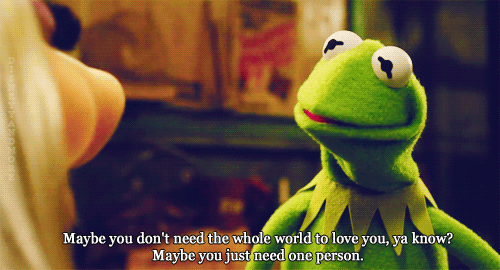Uma vez eu li uma frase que ficou na minha cabeça. Primeiro pensei que ela era de algum texto famoso e que se eu jogasse o fim dela no google eu ia encontrar ela inteira. Não encontrei, então, creio que se eu não tiver sonhado com a frase, ela é de alguma amiga minha. Enfim, ela diz algo do tipo: “você pode pensar ou fazer o que quiser comigo, só não me odeie porque eu não sei lidar com quem não gosta de mim”.
Acho que inventei a metade inicial da frase. Mas sei que desde que li o final ele nunca mais parou de martelar na minha cabeça. Outro dia voltou bem à tona, porque meu amigo comentou que uma professora nossa tinha dito pra ele que ele devia fazer alguém odiá-lo, só para aprender a lidar com isso, e eu pensei que obviamente não vou fazer alguém me odiar, mas seria um plano incrível para aprendizado de vida.
O fato é: Eu realmente não sei lidar com quem não gosta de mim. Mesmo que eu não goste da pessoa, ou não ligue a mínima pra ela. Se eu descubro ou sinto que ela não gosta de mim, eu vou surtar e tentar fazer com que ela veja que, no fim das contas, eu sou legal. E eu sinceramente ando pensando que não existe uma real necessidade disso.
Em Procurando Nemo, a Coral diz para o Marlin: São mais de 700 ovas, alguém tem que gostar de você. E eu reflito agora: São 7 bilhões de pessoas no mundo, alguém vai não-gostar de você. E é isso. Tem santo que não bate. Tua risada fora de hora vai fazer alguém torcer o nariz pra você. Teu tom de voz, sua cor favorita, o jeito como você coça a sua garganta ou range seus dentes, aquelas mesmas pequenas coisas que fazem algumas pessoas te amarem, certamente farão outras pensarem que o mundo seria um lugar melhor sem a sua presença. E por mais dolorido que pareça, essa é uma verdade absoluta da vida. Não tem como fazer todo mundo te amar.
E eu ando tentando me acostumar com essa ideia ultimamente. Porque as pessoas são meio malucas. Elas tem ideias do nada, elas mudam de gosto como mudam de roupa, e de repente uma de suas grandes amigas resolve cansar da sua existência sem que você faça uma grande burrada que realmente dê motivos para que ela se afaste. E é nessa hora que você olha o mundo em volta, ergue a cabeça, e é obrigado a pensar que é nadar, nadar e morrer na praia essa ideia suicida de tentar fazer todo mundo achar que você é super bacana. Ninguém é totalmente bacana. Se nem Jesus foi unanimidade, não somos nós, meros mortais, que precisamos tentar ser.
Update: Finalmente descobri a autora da frase! A querida da Larie se identificou nos comentários! E a frase correta é: “você pode vir falar comigo, só não vire meu inimigo, porque não sei lidar com quem não gosta de mim.” Amiga, obrigada pela pérola!